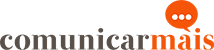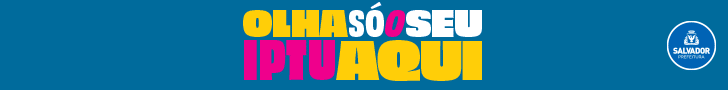A pesca da baleia consolida-se no século XIX como um sistema ecologicamente devastador para a produção do óleo ou azeite, extraído da gordura do cetáceo que viabiliza por três séculos o combustível gerador da iluminação das cidades e residências

Por Albenísio Fonseca – Imagine Salvador e vilas do Recôncavo iluminadas durante o século XIX. As ruas têm os lampiões acesos e, nas residências, as luminárias flamejam. Mas qual combustível era esse que permitia tamanha luminosidade?
Sim, em contraposição a ciclos econômicos dos períodos colonial (1500-1822) e imperial (1822-1889) proporcionados pela exploração do pau-brasil e das plantações de cana-de-açúcar e café, como nas minerações de ouro – o ciclo da pesca da baleia na Costa brasileira, notadamente na Baía de Todos os Santos, é um fato histórico da expansão exportadora que, embora de alta relevância, permanece submerso ou à deriva, relegado a parcas abordagens dos nossos historiadores.
A pesca das baleias e seus filhotes, por 300 anos – entre barcos fundeados na Baía – à média de 200 animais por ano e 10 mil litros de azeite por exemplar, consistia em dramático e trágico espetáculo assistido das balaustradas dos sobrados, subidas de morros, montanhas e praias, de onde se contemplava o embate excitante e o transbordar nas águas do sangue do pescado. Não raras vezes, estarrecidos com o naufrágio das embarcações e seus tripulantes, vencidos pela força do maior animal do planeta.
Arpoadas e rebocadas à praia ou às armações, as baleias eram retalhadas e delas extraídos os subprodutos. A carne, tida como ordinária, além de distribuída gratuitamente à gente pobre do lugar, era geralmente destinada a alimentar os escravos trabalhadores das armações e vendida às ganhadeiras, que as salgavam, moqueavam e saíam vendendo pelas ruas de Salvador e vilas do Recôncavo. Os ossos, empregados em obras ou suportes para lavagem de roupa. À beira mar, restos do “monstro” permaneciam fétidos.
A pesca da baleia consolida-se no século XIX como um sistema ecologicamente devastador para a produção do óleo ou azeite, extraído da gordura do cetáceo e que viabiliza por três séculos o combustível gerador da iluminação das cidades e residências, não só nesta capital e seus arredores como em Pernambuco, São Paulo, Rio, Santa Catarina e cidades europeias.
A atividade foi introduzida na Bahia, nos primeiros anos do século XVII, quando da denominada União Ibérica – de Portugal e Espanha – entre 1580 e 1640. O rei Felipe III, em 9 de agosto de 1602, autoriza dois estrangeiros, os biscainhos (ou bascos) Pêro de Urecha e seu sócio Julião Miguel, a pescarem baleias nas costas brasileiras, pelo prazo de dez anos
Exímios pescadores de baleia, após as capturas do mamífero aquático, processavam a gordura em bases cujas localizações nunca foram identificadas e retornavam à Espanha levando o azeite do peixe e gêneros da Colônia. Antes, porém, abasteciam o Recôncavo com o combustível, conforme acerto em contrato.
Entre 1602 e 1612, todavia, a Câmara Municipal de Salvador estimula a pesca do cetáceo junto aos habitantes da cidade. O episódio traz sérios prejuízos àqueles empreendedores, por conta do aumento da “produção caseira” de um azeite de baixa qualidade, resultando consequentemente em queda nos preços. Como decorrência, os biscainhos perdem o interesse em continuar pescando os cetáceos nas águas brasileiras.
Na capital, Antonio da Costa obteria o primeiro contrato de concessão para pesca da baleia e exploração dos seus derivados, em 1614. Detentor do monopólio, expande a atividade por todo o litoral da cidade. Instala armações na Pituba, no Rio Vermelho, nas proximidades do Forte de Santo Antônio da Barra, na Pedra Furada e em Itapuã. As armações consistiam em estrutura com embarcações, fábrica, alojamentos, armazéns, fornalhas, tanques, caldeiras, escravos, terras, apetrechos de pesca e as de manufatura do azeite.
Conforme minucioso estudo de Myriam Ellis, “A pesca da baleia no período colonial” (Ed. Melhoramentos, 1ª edição, 1959) – em todas as armações do litoral brasileiro predominava mão de obra escrava. As maiores indústrias de óleo chegavam a empregar mais de uma centena de cativos, além de trabalhadores livres, a labutar dia e noite em fornalhas que derretiam o espesso toucinho do animal.
Findo o monopólio, as armações da Bahia, em Itaparica e Itapuã, são vendidas a particulares que continuaram a pescar baleias nas águas da Baía de Todos os Santos. As existentes no Sul do Brasil foram tomadas pela Coroa Real e desastrosamente administradas. Ao oferecê-las em concessão a particulares, 15 anos depois, já não encontraria interessados.
Afora a escassez da espécie, pela pesca predatória, havia a concorrência estrangeira. Americanos e ingleses desenvolveram tecnologia para processar a gordura e extrair o azeite no interior das próprias embarcações, em alto mar. O fim do ciclo decorre da descoberta do petróleo, em 1859, tornando o querosene como novo combustível para iluminação.
Resta-nos, contudo, em Itapuã, alegorias das baleias a festejar a influência da pesca na formação social e econômica de Salvador.
________________________________________________________________________________________________________________
Aviação Bahia Bolsonaro Brasil Camaçari Carnaval CBX Cidade Baixa Cinema Cultura Drogas Educação Ensino Escola EUA Feira de Santana Ficco Folia Futebol Homicídio Itapagipe Justiça Lauro de Freitas Lazer Lula Meio Ambiente Mobilidade mulher Música PCBA PMBA Polícia Federal Política Rio de Janeiro Salvador Saúde Segurança SSP-BA SSPBA STF Subúrbio Ferroviário São Paulo trânsito Turismo Uruguai